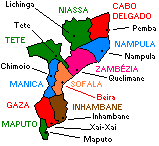A mãe negra embala o filho.
Canta a remota canção
Que seus avós já cantavam
Em noites sem madrugada.
Canta, canta para o céu
Tão estrelado e festivo.
É para o céu que ela canta
Que o céu
Às vezes também é negro.
No céu, tão estrelado e festivo
Não há branco, não há preto…
Aguinaldo Fonseca (Cabo Verde)
É um privilégio ter nascido em África. Não é um lugar comum, é uma constatação. Ter nascido, ter crescido, essencialmente ter sentido, ter sido embalado no berço. No velho ou no novo continente ou noutro qualquer, quem «bebeu água do Bengo…» – por sinal um rio sem sombra de beleza, mas era dele que se canalizava a água para Luanda e foi a expressão que perdurou em Angola – é intrinsecamente diferente dos demais, olha as coisas over the rainbow, e só alguns conseguem entender um africano de alma.
É-o sem dúvida José Manuel Barata-Feyo. Eu não sei qual a terra em que nasceu, não conheço o seu percurso pessoal, apenas literário e social, a sua irreverência sadia, a sua contestação, a sua clareza de espírito, a sua indignação que tão bem consegue transmitir quando escreve. Tudo isto para dizer que numa das suas últimas crónicas semanais da Grande Reportagem, senão mesmo a última, fez referência a um ícone da cultura musical cabo-verdiana. A sua descrição é pura poesia:
«Era de noite, estava calor, ela chegou pela rua de terra batida e escura, descalça e bamboleante, sentou-se nos degraus do bar que davam para a rua, pernas afastadas ao jeito africano, as mãos cruzadas no colo a empurrar a saia comprida para baixo, e eu sentei-me ao lado dela e ali ficámos, os dois, a beberricar whisky, o céu estrelado do Mindelo lá por cima e o piano do Chico Serra lá dentro. Depois cantou. Não nos deixou filmá-la, mas cantou. Com uma voz que nunca saberei dizer. Piaf, a atormentada e Manitas de Plata, o rebelde, tudo misturado e no entanto divinamente genuíno, tudo dez vezes mais e mais quente, forte e livre. Sobretudo livre. Foi há décadas.»
Logo a seguir transmite-nos dolorosamente as suas penas, a sua indignação:
«Ouço o que fizeram a essa voz, aqui, no conforto europeu do nosso frio Inverno, ouço-a aprisionada, contida, digitalizada e aplaudida pelo Olímpia de Paris, ouço Cesária Évora, a voz do Atlântico, e sinto uma pena imensa de os projectores do «Music Hall» e os interesses do show biz terem sido a única alternativa possível para quem cantava com voz de ouro no meio do mar.»
É neste arfar de revolta, agastamento, impotência perante os «sinais do tempo» que encontro o pulsar que diferencia os nascidos e emoldurados neste país, dos homens da diáspora em que me incluo, perdoem a imodéstia, mas não faria sentido se o não dissesse. Meu pai repetia à exaustão que morrer é preciso. E é preciso porque é difícil, cada vez mais difícil, suportar ou sequer compreender a mudança de mentalidades que se vai instalando ao redor de cada um de nós.
Quem resiste é esmagado pela força das massas porque o crescimento desmedido sem a natural selecção das espécies alterou as regras do jogo da natureza e a humanidade cresce desmesurada e incontrolavelmente, nem sempre sendo os mais fortes os de maior elevação espiritual, esta, condenada definitivamente à extinção.
Nada distingue hoje a espécie humana dos demais seres terráqueos, o Homem só vive a luta por comer e não ser comido, tout court.